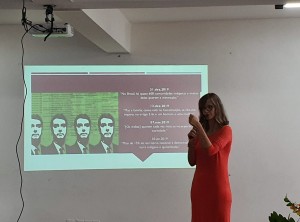Curso de Formação reúne integrantes do Intervozes, ativistas, comunicadorxs e pesquisadorxs em Salvador
Por comunicainter em
Ideias para adiar o fim do mundo: tecnopolíticas, resistência e contra-ataque em tempos de autoritarismo. Esse foi o tema da quarta edição do Curso Anual de Formação do Intervozes, realizado nos dias 24 e 25 de janeiro de 2020, no Instituto Frei Ludovico, em Salvador (BA). O encontro reuniu cerca de 45 associadxs do coletivo, comunicadorxs, pesquisadorxs e ativistas do campo de direitos humanos. Foram promovidas quatro aulas, três oficinas e uma palestra aberta com Ailton Krenak, liderança indígena cujo livro serviu de inspiração para a elaboração do curso.
Após uma rodada de apresentações e expectativas em relação ao curso, partimos para a primeira oficina do dia sobre autocuidado e luta política, com a jornalista e terapeuta Sueide Kintê. Ela destacou que se apropriar de ferramentas de autocuidado é estratégico para ativistas do campo de direitos humanos, especialmente por conta do cenário político insalubre no Brasil. “Todo ativista é um cuidador”, afirmou.
Comunicação, cultura e interseccionalidade nas lutas
A segunda atividade do dia – A centralidade da comunicação e da cultura na articulação da sociedade e na luta por direitos – foi conduzida pela professora do Departamento de Economia da Universidade Federal do Sergipe e sócia fundadora da ULEPICC/BR, Verlane Aragão. O ponto de partido de sua fala foi abordar a relação direta da comunicação com o capital, bem como a dependência do investimento tecnológico à dinâmica financeira. “A cultura e a comunicação são determinantes na produção da riqueza, com uma posição central tanto quanto a produção de trabalho: não se pode criar riqueza sem trabalho humano”, destacou. Para ela, ambas são instrumentos de mediação social, o que também significa ter um papel de controle.
Indagada sobre a invisibilidade do trabalho doméstico, Aragão foi categórica ao afirmar que a luta dos direitos das mulheres caminha lado a lado com a luta de classes. “Do ponto de vista do capital, o trabalho produzido por mulheres no ambiente doméstico é improdutivo e inútil. Porém, ele é vital para a própria dinâmica da ordem do trabalho e da estrutura capital. A luta dos direitos das mulheres caminha junto com a luta de classes”.
Na mesa seguinte, o tema foi exatamente esse: a interseccionalidade na ação política. Ariana Mara Silva, graduada em Relações Internacionais e História e doutoranda no Programa de Estudos Interdisciplinares Sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e Viviane Vergueiro, ativista transfeminista, integrante do Coletivo De Trans pra Frente e doutoranda em Estudos sobre Mulheres, Gêneros e Feminismos na UFBA, dividiram a aula, que começou com a apresentação do conceito de interseccionalidade, cunhado por Kimberlé Crenshaw, feminista negra norte-americana.
Silva ressaltou que o termo não implica em uma olimpíada das opressões e nem em uma hierarquização de opressões. “Interseccionalidade significa pensar sobre como diversos eixos de subordinação se conformam e transformam a vida das pessoas discriminadas. A interseccionalidade é esse ponto de encontro entre matrizes múltiplas de subordinação e o conceito emergiu da necessidade de articular lutas e opressões que afetavam as mulheres negras”.
Vergueiro abordou o conceito de colonialidade em três dimensões: colonialidade do ser, que diz respeito à inferiorização de corpos e formas de existência; a colonialidade do saber, que implica na marginalização e invisibilidade de conhecimentos; e a colonialidade do poder, que hierarquiza e explora grupos humanos e lugares em um padrão de poder. “As pessoas trans serviram como “objeto de pesquisa”, o que também implica em “objeto” por parte de diversos grupos, mesmo aqueles de defesa do direito de mulheres, como um exemplo de inferiorização dos corpos e formas de existência”. Ela também apontou como o discurso médico serviu para balizar a heteronormatividade, o binarismo de gênero, a normatização das condutas sexuais e expressões da masculinidade e da feminilidade. Silva complementou relembrando dos períodos históricos no Brasil onde as biopolíticas e estratégias de controle dos corpos racialmente, por gênero, entre outras categorias.
Raça e tecnologia
No sábado, abrimos os trabalhos com a discussão sobre “Algoritmos, inteligência artificial: uma perspectiva interseccional desde o Sul Global”. Sil Bahia, co-diretora do Olabi e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Políticas e Economia da Informação e da Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abriu sua exposição falando sobre a necessidade de considerar os aspectos geopolíticos para fazer uma abordagem sobre a internet também como geopolítica. “Nós não sabemos em que país está diretamente alocado o nosso servidor de e-mail, por exemplo, mas a nossa comunicação e a segurança dela estão sujeitas às leis e lógicas desse país. É preciso também reconhecer que diante do atual estágio tecnológico, não teremos mais eleições democráticas no campo político, como bem falou a jornalista Carole Caldwalladr no filme “Privacidade Hackeada”. No campo individual, estamos sofrendo alterações na nossa psiquê geradas por essa exposição e mediação à tecnologia”.
Para Bahia, é sempre importante pontuar que as tecnologias não são neutras e são baseadas em escolhas, parâmetros e ideologias, atreladas às dimensões estruturais da sociedade, inclusive seus preconceitos. Exemplo disso é que 90% das pessoas presas por meio de tecnologias de reconhecimento racial são negras. Outro dado chocante apresentado é que pessoas negras têm 5% de chances a mais de serem atropeladas por carros automatizados do que pessoas brancas.
Em seguida, Tarcízio Silva, pesquisador e doutorando no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, avaliou que o maior perigo da inteligência artificial não é a substituição da mão de obra humana. Para ele, o perigo está na capacidade de ocultação de informações e realidades por parte das inteligências artificiais. Um exemplo é o caso da rede neural empregada pela Unilever para análise de recursos humanos, concebida a partir do banco de dados e funcionários da empresa. O algoritmo gerado bloqueou a análise de currículos de mulheres e pessoas negras, já que no passado da empresa era recorrente a contratação de homens brancos.
Silva introduziu a ideia de plataformização. “Dos 20 negócios em tecnologia mais relevantes, a maior parte são dos Estados Unidos e os que não são estão na China. As plataformas são intermediadoras de relações nesse estágio que vivemos do capitalismo de plataforma, ou economia de compartilhamento. Vivemos a plataformização das trocas humanas, temos plataformas para tudo, de publicidade, de nuvem e inteligência artificial, industrial, de produto, de self/ afetivas”.
Silva chama a crença de que mais tecnologia é sempre a solução de technochauvisnismo, uma fé inabalável de que os computadores são mais objetivos e que o mundo é melhor com os computadores. Para ele, isso indica uma colonialidade do poder.
Desinformação
Associada do Intervozes, publicitária e professora da Universidade Federal do Sergipe, Carol Westrup apresentou as reflexões que o coletivo tem feito sobre desinformação. Os debates também estão disponíveis na publicação “Desinformação: ameaça ao direito à comunicação muito além das fake news” e em um livro que será lançado em breve pelo coletivo.
Westrup começou apontando a questão dos monopólios. No Brasil, 26 grupos econômicos controlam os meios de comunicação tradicionais. Houve um avanço da lógica capitalista para o universo online, criando monopólios digitais que são mediadores ativos de interação e transações entre indivíduos, organizações e Estados, fortemente lastreados na coleta e processamento de dados e marcados por efeitos de rede.
O Brasil tem 140 milhões de usuários ativos na rede (correspondente a 66% de brasileiros). Desse universo, 76% dos usuários acessa a internet apenas pela rede móvel, com franquia mensal de volume de dados baixa e 64% daqueles que têm acesso à internet se informam pelas redes sociais. O Brasil também é o líder mundial no uso do Whatsapp para obter notícias (53%).
Westrup utiliza o conceito de desinformação como uma narrativa criada para ser crível, construída para enganar e elaborada esteticamente para ser consumida de forma maciça e compartilhada em massa. “É muito mais profissional do que acreditamos. Ela se fortalece na predisposição de crença da maioria das pessoas”, pontua. Ela destacou ainda que a estrutura da desinformação é objetivamente oportuna dentro do modelo de negócios da indústria cultural e das redes culturais.
Uma característica da população brasileira que contribui para a disseminação de desinformação é a baixa criticidade e pouca percepção sobre a falsidade e não aplicabilidade dos conteúdos apresentados pelos meios. “Os conteúdos falsos são viralizados quatro vezes mais do que as notícias verdadeiras. A desinformação é monetariamente muito viável e lucrativa”.
A desinformação como vemos hoje é construída como uma estratégia de poder da extrema direita – o que não significa que não tenha sido também empregada pela esquerda. Contudo, a base de apoio da extrema direita empregou com maior êxito a produção de comunicação falsa em massa. “Basta lembrar dos dados revelados pela deputada Joice Hasselman para vermos como foi amplamente empregada pela direita: 2 milhões de robôs seguindo os perfis de Jair e Eduardo Bolsonaro, sendo 1,4 milhão no perfil do presidente”.
Ela destacou que, atualmente, 29 propostas normativas sobre o tema tramitam no Congresso e a maior parte está baseada em dois eixos centrais: criminalização, a partir da criação de um novo tipo penal para a produção e compartilhamento de Fake News, e a remoção imediata pelas plataformas de conteúdos falsos.
Para combater a desinformação, Westrup destaca que é urgente uma política multissetorial que crie processos pedagógicos sobre leitura dos meios e educação midiática. “Do ponto de vista eleitoral, é fundamental que haja ações de transparências, de modo corregulado para coibir as redes de desinformação. Uma possibilidade seria a disponibilização de informações sobre anúncios e relatórios de transparência sobre uso político dessas ferramentas”.
Metodologias participativas e os espaços do comum
No sábado (25) à tarde, xs participantes se dividiram em dois grupos para acompanhar as oficinas simultâneas. A discussão “Disputando os rumos das tecnologias e da sociedade: o comum, a assembleia, formas de emancipação” foi conduzida por Alana Moraes, antropóloga, doutoranda no Museu Nacional da UFRJ e integrante do PimentaLab, e Henrique Parra, sociólogo e professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e coordenador do Pimentalab.
“A ideia de laboratório que trabalhamos é enquanto forma de ação política e produção de ciência. Vivemos num mundo de desabamentos e o laboratório do comum funciona a partir da ação permanente e ativa de desmanchar algumas fronteiras epistemológicas e ontológicas que foram necessárias para a construção do pensamento racional e cartesiano desde os séculos XVI e XVII. Uma das fronteiras importantes é a de especialistas e amadores, que traz a ideia de que alguns são autorizados, outros não”, explicou Parra. “É preciso abrir mão disso para pensar um tipo de ação que seja a partir do desabamento dessas fronteiras. Há um forte movimento para pensar em outras ciências possíveis, que produz uma passagem da ciência da representação para a experimentação”, complementou Moraes.
A segunda oficina, apresentada por Sue Yamamoto, discutiu “Metodologias de Pesquisa Interseccional e Participativa no Cenário de Convergência”. Ela explicou o conceito de “pesquisa-ação participante”, que é baseada em um conjunto de princípios e práticas relacionadas que promovem um comprometimento com a ação e com a justiça social, especificamente com o objetivo de expor e mudar as relações de poder.
“A felicidade é uma rebeldia diante de uma opressão”
Encerramos o primeiro dia do curso com uma aula aberta de Ailton Krenak, que contou com a participação de cerca de 300 pessoas abrigadas nas cadeiras, cantos e corredores do Auditório do Sindae, nos Barris. Iara Moura, coordenadora executiva do Intervozes, abriu a aula com algumas das reflexões presentes no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo e provocando perspectivas de contra-ataque ao projeto de poder que ameaça a continuidade da espécie humana e do próprio planeta.
Krenak abriu sua fala afirmando que “este ano pode ser muito bom para a gente fazer o que a gente tem que fazer: viver da melhor maneira possível, compartilhando com o máximo de pessoas, afetando as nossas vidas”. Para ele, quem lida com a arte de comunicar sabe como é difícil atravessar a alienação que se interpõe em todas as comunicações que fazemos uns com os outros. “Talvez a experiência de viver em comunidade, exercitando a oralidade seja um recurso de friccionar esse lugar. Muitos de nós temos o prazer da leitura como fonte privilegiada de conhecimento sobre e com o mundo. Esta experiência não substitui de jeito nenhum a experiência dos afetos. Se relacionar, viver, conversar. Não importa o conteúdo dessas trocas, o que importa é que elas possam afetar a existência uns dos outros. E esta deveria ser a nossa experiência mais rica”.
Questionado sobre o que seriam as ideias para adiar o fim do mundo, Krenak responde: “é uma parábola. É assumir o lugar de abismo em que nós estamos compartilhando e a partir dele adiar isso. Não é uma promessa de nada: é um chamado para conversar. As respostas que as pessoas dão a encontros como estes, é porque elas estão aceitando conversar. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos adiando, por alguns minutos, algum fim de mundo”.
As 2 horas e meia de aula estão disponíveis na íntegra em nossa página no Facebook, neste link.